Anemic #1
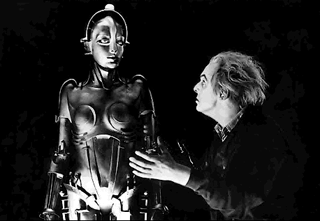 Depois de Paisagem Digital, Anemic será a próxima rubrica numerada. Trata-se de um anagrama da palavra cinema, que serviu de título à curta-metragem Anemic cinéma de Marcel Duchamp. Será aqui que irei colocar pequenas notas, ideias, citações, sequências histórias ou comentários sobre filmes, assim como as possíveis ligações entre eles. O que for escrito neste rubrica, pretende ser o embrião de uma futura crítica mais ampla. E para começar?
Depois de Paisagem Digital, Anemic será a próxima rubrica numerada. Trata-se de um anagrama da palavra cinema, que serviu de título à curta-metragem Anemic cinéma de Marcel Duchamp. Será aqui que irei colocar pequenas notas, ideias, citações, sequências histórias ou comentários sobre filmes, assim como as possíveis ligações entre eles. O que for escrito neste rubrica, pretende ser o embrião de uma futura crítica mais ampla. E para começar? Coloquei uma regra a mim próprio: só iria falar sobre filmes que já tivesse visto algumas vezes. As últimas estreias ficam assim de fora. A escolha recaiu sobre um filme do meu realizador preferido: Fritz Lang.
O filme escolhido foi Metropolis. É dos poucos filmes mudos que desperta curiosidade nas gerações mais novas. A versão de Moroder nos anos 80 e o videoclip da música Radio Ga Ga dos Queen muito contribuíram para isso. É assim que os filmes passam de uma geração para a outra, com homenagens e redescobertas. Eu não tenho dúvidas que a febre do DVD poderá, se o acaso proporcionar, criar uma vaga de cinéfilos. Como?
Quando um jovem não vê o cinema clássico, isso não significa que seja necessariamente imbecil ou ignorante. A empatia do espectador com um cinema que não lhe é próximo (não conhece as actrizes, os actores, sente-se desconfortável com a fotografia a preto e branco e por vezes há no máximo, uma banda sonora para compensar o facto de não se ouvir a voz destes) não parece ser muito provável. Será possível a um jovem vencer tanta contrariedade?
Felizmente para o cinema cada nova geração tem os seus cinéfilos. A cinéfilia não se constrói num fim-de-semana ou através da leitura dois ou três livros. É um processo que deve ser realizado ao longo do tempo. Sem darmos conta, o número de filmes, que vimos, vai aumentando. Aos poucos, começamos a estabelecer relações entre eles, sem esforço e isso incendeia a nossa paixão pelo cinema, tornando-a irreversível.
Os primeiros passos são os mais difíceis. Há quem veja cinema dos anos 30 desde muito novo; para outros, porém, isso só acontece na adolescência ou mesmo depois. Com o público habituado a explosões, som DTS, e actores que aparecem na televisão todos os dias, parece quase um milagre, que alguém se lembre de ver um filme como Metropolis…
Para mim a cinéfilia é uma reacção em cadeia, tal como as conhecidas reacções nucleares. O segredo dessas reacções é que cada neutrão pode desencadear a cisão do núcleo e desta resultam sempre mais neutrões, tornando o processo irreversível. O mesmo se passa com o cinema. Um dado filme pode-nos atrair de um modo especial. Isso desperta em nós a curiosidade e acabamos por querer saber mais sobre os filmes. Deixa de ser um mero entretenimento, para passar a ser algo mais. Alguns dos filmes tornam-se “nossos” por conseguirem comunicar connosco. Quando isso acontece, a nossa relação com o cinema nunca mais é a mesma. Durante o resto da nossa vida, iremos procurar no próximo filme, a sensação que tivemos nesse(s) filme(s) fundador(es).
Volto agora ao filme de culto do cinema mudo. Metropolis é um filme muito forte tanto visualmente, como na mensagem que passa através da imagem. Fritz Lang era muito crítico em relação aos seus próprios filmes. Não gostava particularmente deste pois dizia que a sua história era pouco verosímil. Talvez o argumento seja algo simplista, mas a força visual que o filme transmite, consegue suplantar a sua fragilidade argumentativa.
Em Metropolis a música assume também um destaque importante. No cinema mudo a partitura tinha muitas vezes um papel fundamental. A cada personagem ou situação era associado um motivo musical. Isso permitia, ao espectador, identificar o assunto que era discutido pelas personagens, mesmo sem intertitulos. O filme de Lang utiliza este estratagema múltiplas vezes.
Este texto já vai longo e portanto vou deter-me apenas nos primeiros minutos do filme. É necessário esperar algum tempo até aparecerem seres humanos. Inicialmente temos apenas maquinas que executam tarefas rotineiras, a grande velocidade, impondo um ritmo aparentemente colossal. Quando surgem os primeiros homens o contraste é absoluto. São os operários que dão vida à cidade, mas parecem estar desprovidos de vida e de qualquer personalidade. Vestem-se e caminham de igual modo e diferenciam-se apenas por um número. O ritmo dos primeiros minutos, onde acompanhamos as máquinas em acção, choca com a monotonia dos operários.
Não será a última oposição neste filme, elas vão suceder até ao fim. Ao entrarem no elevador, os operários ficam verdadeiramente imóveis. Surgem então intertítulos onde as palavras movem-se, tornando ainda mais flagrante o imobilismo dos operários. E depois de termos assistido à vida miserável dos operários, Lang leva-nos para as imagens idílicas de quem domina a sociedade. É quase cruel, assistir às brincadeiras lânguidas dos jovens, depois de ter visto a tristeza dos operários. Mas o aparecimento de Maria (Brigitte Helm) com os filhos dos operários, origina a tensão que será resolvida no fim do filme: como conciliar os operários com os seus dirigentes?
A imagem dos operários a caminharem sem alento, lembra-me sempre Modern Times de Charles Chaplin, onde este sobrepõe à imagem de carneiros, trabalhadores a entrarem numa estação do metro na hora de ponta. Também aqui o ritmo é marcado pela máquina e ao homem cabe apenas a companha-lo.
Curiosamente este ano Tim Burton também nos brindou com um formidável Charlie and the Chocolate Factory onde no genérico as máquinas empacotam o chocolate Willy Wonka sem a presença humana. As semelhanças com o início de Metropolis são visíveis. Também neste filme é abordado a questão a precariedade do emprego e da vida miserável dos empregados. O pai de Charlie também desempenha tarefas rotineiras como os operários de Metropolis. Contudo na Fabrica de Willy Wonka (Johnny Depp) temos talvez os operários mais divertidos da história do cinema: os Oompa Loompa (Deep Roy). São impossíveis de distinguir mas proporcionam-nos os momentos mais divertidos e corrosivos do filme.
Era para ser um pequeno texto, mas cada frase leva a outra, e de Metropolis cheguei a Tim Burton. É assim a paixão do cinema, nunca sabemos para onde nos leva um dado filme, tal como Dorothy Gale (Judy Garland) em Wizard of Oz, não sabe para onde vai a sua casa. E talvez se possa dizer que o desejo de cada cinéfilo, ao ver um filme numa sala de cinema, é viajar como Dorothy para Oz, a terra dos sonhos - e portanto - dos filmes!

0 Comments:
Post a Comment
<< Home